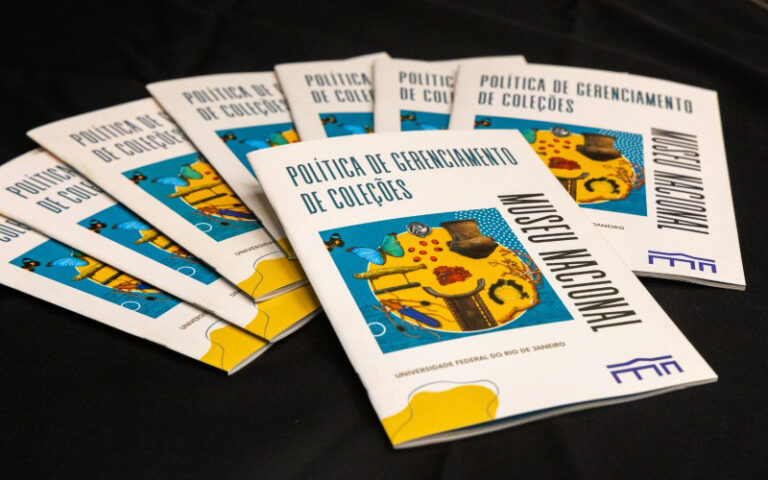“Preciso que você venha ao Museu. Se você estiver de bobeira, pode vir aqui agora?”. Esse foi o chamado do meu orientador, Alexander Kellner, em uma manhã de 2018 que viria a mudar completamente o que eu já tinha pensado sobre meu futuro acadêmico. Quando cheguei, ele estava na antiga sala da Direção do Palácio com minha co-orientadora Juliana Sayão, me convidando para integrar a equipe do projeto Paleoantar nas próximas expedições para a Antártica, como parte do meu doutorado. A partir desse convite, meus meses de novembro a março nunca mais foram os mesmos, realizando trabalhos de campo em um lugar inóspito, percorrendo longos trajetos à procura de fósseis e com a comunicação bem limitada com família, amigos e namorada.
Ao mesmo tempo, é extraordinário desvendar mistérios de milhões de anos em um continente ainda pouco conhecido por todos em um lugar rico em fósseis. Quando conto para alguém que eu passo esse tempo na Antártica, logo perguntam o que vou fazer por lá. Normalmente essa costuma ser a segunda pergunta que me fazem. A primeira tem sido quase sempre “Paleo o quê?”, seguida de minha explicação sobre o que se trata a paleontologia. Mas, logo ao abordar os trabalhos paleontológicos na Antártica, vem uma série de perguntas clássicas: como é a vida por lá, o que vou fazer exatamente, até curiosidades mais corriqueiras sobre como é ir ao banheiro, entre outras. Então, farei um resumo do que considero mais comuns e mais interessantes aqui para vocês.

Normalmente o período anterior à viagem da expedição consiste em reuniões com familiares e amigos, uma vez que a comunicação durante o trabalho de campo é bem restrita e meu Natal e Ano Novo é em expedição. Como ligações de telefone são mais restritas, eu reservo para ligar para a família no Natal e no Ano Novo, especialmente, e concentro o envio de mensagens para uma pessoa, que redistribui entre meus entes queridos. Depois da minha primeira expedição, comecei a namorar e mais uma pessoa foi incluída nessa minha troca de mensagens e distribuição de informações. Já no início do relacionamento, tinha que ficar longe dela por três meses. Devido à incerteza das comunicações periódicas, tivemos uma ideia e resolvemos deixar cartas um para o outro durante todo esse período para serem abertas durante minha estada em campo. A gente costuma brincar que é o momento em que a Victoria Barros, minha namorada, entra em contato com o Arthur do passado, contando diferentes histórias que contaria para ela no dia a dia, se estivesse presente. Levo também um volume considerável de músicas baixadas e combinamos playlists.
Em acampamento, temos uma grande barraca comunitária, que é espaço de convivência e laboratorial, em que passamos grande parte do dia, quando não estamos prospectando. Nessa estrutura coletiva, nos reunimos após o trabalho para jantar, conversar e ouvir os boletins diários que chegam por rádio com a previsão do tempo local, resultados de futebol e as notícias do Brasil e do mundo. Aliás, foi impressionante ouvir o avanço da pandemia da Covid-19 e o fechamento progressivo dos países e chegar em março com o Brasil parando aos poucos. Você imagina a sensação? Não foi nada fácil ouvir pouco a pouco o que estava começando a acontecer.

Todos os equipamentos e mantimentos ficam devidamente distribuídos em caixas, chamadas marfinites. Elas, além de armazenar e organizar o material de campo e acampamento, também servem de lastro para prender as barracas ao chão, devido aos fortes ventos. Todos os resíduos e lixo produzidos também são devidamente separados em campo e tratados para serem enviados ao Brasil. Então nenhum lixo fica no continente, para redução do impacto ambiental.
Temos barracas menores individuais, onde temos certa privacidade, podemos cuidar da higiene pessoal e dormir. Ter esse breve momento mais privativo é algo importante para a manutenção da saúde mental. É justamente nesses momentos mais particulares que reviso minhas anotações de campo e faço meu diário pessoal, com impressões, sentimentos, experiências, assim como coisas corriqueiras, como o dia a dia de trabalho. É um hábito que, além de ser uma boa forma de lembrar do que aprendi no dia e marcar a passagem de tempo, foi muito inspirado em outros expedicionários, incluindo os diários pessoais de Darwin. Já anotações mais técnicas e científicas são anotadas em um bloco de campo à lápis, para evitar que se percam, caso molhe com a chuva ou neve.
A primeira tempestade de vento
Uma experiência que me marcou durante minha primeira expedição foi a primeira tempestade que pegamos acampados na Antártica. Era madrugada de Ano Novo. O alpinista, que fica encarregado pela parte operacional do acampamento, me explicou sobre a resistência das barracas para as tempestades de vento, enquanto do lado de fora, rajadas de vento atingiam até 60 nós – o que equivale a aproximadamente 111 km/h. Ele recomendou que dormíssemos com o saco de dormir entre as mochilas na barraca individual e com a segunda pele, para que, no caso dela colapsar com o vento, a gente ficar protegido no interior e poder sair, uma vez que as barracas são estacadas no chão. Nem precisa dizer que foi uma noite mal dormida ao som dos ventos uivantes frios do lado de fora. Nenhuma descrição ou treinamento prévio te prepara para uma tempestade dessas, tão assustadora e, ao mesmo tempo, fascinante pela brutalidade indiferente que a natureza se amostra para nós. Por vezes, a barraca envergava a dois palmos de meu nariz. Mas tinha que dormir e descansar, pois teria material para organizar e triar no dia seguinte e, com o melhorar do clima, voltaríamos a percorrer trajetos de mais ou menos 10 quilômetros a pé em um terreno acidentado em busca de fósseis e com pesadas mochilas e equipamentos.
Grande parte de nossas caminhadas eram acompanhadas do som monótono dos ventos ao pé do ouvido frente a uma paisagem de gelo, rocha e sem grandes sinais de vida. Não é em toda expedição que encontramos pinguins, que são criaturas muito engraçadas e desajeitadas, diga-se de passagem. Mas depois do vislumbre de ver alguns, eles passam a integrar parte da paisagem. Na verdade, os elementos destoantes somos nós, humanos. Com o retorno ao Rio (e à civilização), os meses seguintes são voltados para trabalhar com esse rico material, começando por tabular os dados das anotações de campo e desenvolvendo nossas produções científicas, contribuindo para o avanço da ciência, com novas publicações sobre o acervo do Museu Nacional, e nos preparando para as próximas expedições. O trabalho é cíclico.
A paixão por dinossauros e Museu Nacional desde sempre
Eu não sei exatamente quando e o motivo que me fez ter tanta adoração por dinossauros. Mas me lembro com carinho de um dinossauro de plástico que ganhei da minha madrinha Vera Alves, ainda na década de 1990, depois do grande sucesso de “Jurassic Park” nos cinemas. Tenho também fitas VHS (eu sei, é muito cringe, mas tenho) que ela me deu em um aniversário, com os episódios de “Caminhando com os Dinossauros”, da BBC e exibida aos domingos pelo Fantástico. Assistia inúmeras vezes.
Eu ainda morava em Bangu, um bairro da zona oeste carioca, quando tive meu primeiro contato com o Museu Nacional. Assim como grande parte das escolas suburbanas, o passeio da escola à Quinta da Boa Vista era de praxe. Lembro da extensa fachada do Museu Nacional, que nessa época ainda era rosa, e de meu encantamento por cada exposição. Meus pais achavam um tanto inusitado minha paixão pela paleontologia, mas nunca deixaram de lado seu apoio a minha educação e a minha escolha de carreira.
Em minha adolescência, eu passei para o Colégio Pedro II, em São Cristóvão, e minha família se mudou para o bairro. Um pouco antes de entrar para o ensino médio, soube do Programa de Iniciação Científica Júnior com o Museu Nacional e logo entrei em contato com a professora responsável no colégio. Mas ainda não era o momento, porque eu tinha que esperar a entrada no ensino médio. Mas mesmo assim, ela me recomendou conhecer um pouco do Museu com o aniversário da instituição, que contava com suas tradicionais atividades abertas ao público. No ensino médio, fiz todo o processo de seleção, fui selecionado e continuo até hoje no Laboratório de Sistemática e Tafonomia de Vertebrados Fósseis e Departamento de Geologia e Paleontologia, o qual fui inteiramente acolhido por sua equipe e fiz amizades para uma vida inteira.
Entre o mestrado e o doutorado, antes da ligação do professor Kellner que relatei no início deste texto, eu tinha cogitado ir para outra universidade, já que estava por aqui desde o tempo do colégio, e estava me planejando para tal. Mas veio o incêndio. Não consigo me ver em outra instituição naquele momento tão difícil. Mesmo na adversidade, vivemos momentos históricos e importantes para a reconstrução da instituição Museu Nacional/UFRJ. Para mim, foi um momento de perceber que instituições não são feitas de pedras e madeira. Lógico que acervos e estruturas físicas são importantes, mas sem pessoas, são apenas ruínas vazias. Em minha visão particular, o futuro do Museu passa pelo entendimento de cada um de nós, trabalhadores, pesquisadores e estudantes, que integram ou integraram o Museu de alguma forma, como um elo que transpõe o espaço e o tempo geracional, preservando e lembrando à nossa sociedade de seu passado e futuro. Posso dizer que o Museu continua e continuará vivo e pulsante enquanto houver pessoas trabalhando em prol da cultura, do conhecimento e da memória.
Um abraço a todos,
Arthur Brum
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional/UFRJ.