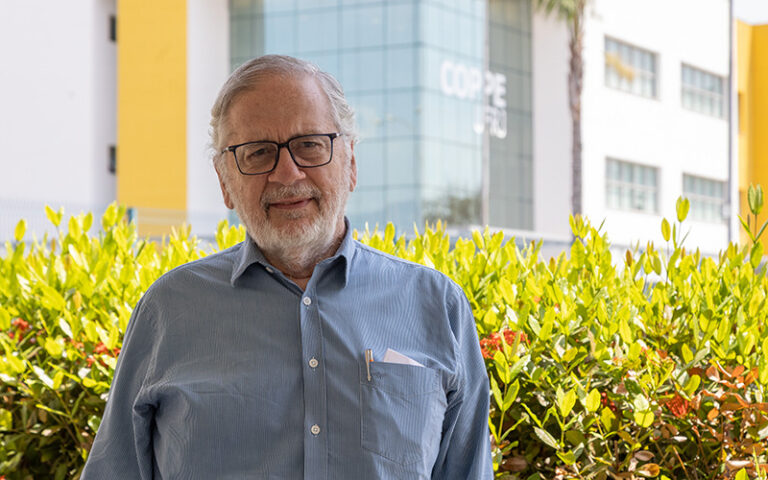“Lute como uma mulher indígena Baniwa” ou “Seja forte como uma mulher Baniwa” são os dizeres da camiseta da antropóloga Francineia Bitencourt Fontes, mais conhecida como Francy ou Fran Baniwa. Nesta entrevista, você irá conhecer um pouco da potência dessa mulher, que traz com ela os saberes acadêmicos e também os saberes de seu povo. Ela nasceu na região com a maior variedade de povos indígenas do país: o Alto Rio Negro, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Na infância, teve forte ligação entre a comunidade para estudar e o sítio para passar os finais de semana, e, para isso, ela e sua família precisavam remar entre 8 e 9 horas, descendo o rio Içana e depois subindo o igarapé Uwíwa. Aos 35 anos, é mãe, mulher, filha, liderança indígena e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ, pesquisando com seu olhar “de dentro da cultura indígena para fora”.
Harpia – Como foi seu acesso à escola na infância?
Francy Baniwa – Tenho pais agricultores e artesãos. Então, na minha infância, eu vivia entre o sítio e a comunidade. A minha finada avó morava na comunidade Assunção do Içana e a gente ficava com ela durante a semana para estudar, enquanto meus pais iam para a roça para fazer farinha, beiju, pescar e caçar no igarapé Uwíwa. Tive muito cedo o contato com a escola, aprendendo a ler e a escrever, mas tudo com uma carência muito grande com boa parte dos professores sem uma formação nem de ensino médio completo. Com as freiras salesianas, aprendi o português e tive também professores indígenas, sendo alguns parentes. Mas, saindo dali, eu falava em nheengatu com a minha família, que toda sexta-feira nos levava para o sítio remando entre 8 e 9 horas. Aprendi desde cedo o que é ser uma mulher indígena, sabendo limpar e cozinhar o peixe, ir para a roça colher a mandioca e fazer farinha e beiju. Todo esse contexto do mundo indígena, que você precisa aprender porque, como mulher, precisa conhecer essas técnicas e aprendizados para depois passar para os filhos e netos. Ali só tinha escola em Assunção, porque tinha a missão salesiana. Mais de 95 comunidades para cima não tinham nenhuma escolinha, então eu tive o privilégio de nascer em uma comunidade que tinha acesso ao ensino primário, mas, ao longo dos anos, a partir de muitas conquistas do movimento indígena, hoje nas comunidades já existem escolas, facilitando o aprendizado das crianças e jovens.

Harpia – Li que as mulheres Baniwa trabalham com a cerâmica branca e também com a cestaria de arumã. Como é seu contato com o artesanato?
Francy Baniwa – Dentro das nossas narrativas, cada clã tem sua abrangência e território de origem, que são as casas de espíritos. Onde eu moro trabalhamos com tucum, que é uma fibra que se faz bolsas e vários tipos de artesanato. E meu pai é um mestre em tecer, e mesmo antes ele retira a matéria prima (arumã), lidando com vários processos de preparo e meu filho está aprendendo com ele. Algumas mulheres também sabem fazer a cestaria de arumã, porque não é exclusivo de homens. No rio Ayari, as mulheres trabalham com a cerâmica branca e tem toda a narrativa por trás de cada peça, começando pelas matérias-primas usadas na modelagem de uma peça. Percebo como nós mulheres somos fortes, porque carregamos na trilha a argila pesada e também os filhos no colo por mais de uma hora. E também tem as mulheres especialistas em trabalhar na roça, porque não é toda região que tem tucum, arumã ou argila branca.
Harpia – E como você chegou à presidência da Associação das Mulheres Indígenas Baniwa e coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro?
Francy Baniwa – Essa organização é antiga, sendo criada na época da minha mãe e das minhas tias e parentes. Quando teve a entrada da empresa de mineração Paranapanema na região, a comunidade em si percebeu como uma ameaça e, a partir dessa problematização, elas se organizaram e, ao longo dos anos, também mudou o nome da Associação e, atualmente, é Associação das Mulheres Indígenas do Baixo Içana (AMIBI). Desde cedo eu assistia a tudo porque faz parte da nossa cultura todos participarem do trabalho coletivo da comunidade. Como casei muito cedo, aos 16 anos e fui mãe muito nova, logo comecei a fazer parte, e isso me amadureceu muito rápido, mesmo sem querer, e fui aprendendo com muitas mulheres. E teve um momento que me destaquei e as pessoas tiveram essa confiança em mim. Foi um custo completar o ensino médio, porque não é fácil ter um companheiro que não te compreende. Eu sempre penso que somente estou aqui hoje no Museu Nacional, porque tive a grande ajuda da minha avó, que, quando eu pensava em desistir de concluir o ensino médio, ela ficava com meu filho para eu ir estudar, mesmo com lágrimas nos olhos aqui e lá. Como sou muito participativa na comunidade e fui ser professora, me escolheram para ser a presidente da Associação, que é uma grande responsabilidade porque é preciso se articular e os desafios são muitos. Fiquei só um ano e, a partir dessa função e por fazer parte da Associação, é que eu fui para São Gabriel da Cachoeira participar da Assembleia Eletiva do Departamento de Mulheres da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e na qual fui eleita para ser umas das coordenadoras no Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro (DMIRN) juntamente com a minha colega Rosilda Cordeira-Tukano. Nunca tinha morado na cidade antes, e eu só tinha ido com meu pai para comprar alguma coisa, e dormimos na pedra mesmo na chuva. E eu sempre tive curiosidade de saber como era morar na cidade, mas sempre sendo um desafio.

Harpia – Você citou que ingressou no mestrado em 2017, então, conte-nos como foi esse momento até chegar ao Museu Nacional.
Francy Baniwa – Meu pai sempre me inspirou muito, e sempre quis compartilhar os conhecimentos dele com outras pessoas. Ele sempre falava sobre o antropólogo Robin Wright, que tinha entrevistado e trabalhado com meu finado avô Luiz Manoel, assim como outros avôs e tios no rio Waraná, sobre as nossas origens, sobre a criação do mundo e da humanidade. Desde muito cedo eu quis também levar esses conhecimentos e fui incentivada pelos meus professores. Eu estava em sala de aula, sendo professora, e veio a oportunidade do MEC com um programa para os professores que estavam atuantes em sala de aula para fazer a graduação, com as aulas durante as férias escolares. Os professores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) vinham nos dar as disciplinas. Não tinha antropologia, mas tinha sociologia, e cursei entre 2011 e 2016. Minha vida sempre foi esse corre-corre, sempre na casa de um parente, entre a comunidade e a cidade. Fiz o processo seletivo do Museu Nacional, apesar de pensar que era impossível pelo fato de morar tão longe, e no meio da floresta, onde tudo é precário. Mas vi uma grande oportunidade de representar o meu povo e outros povos e aqui estou, sendo a primeira pessoa Rionegrina a ingressar no Museu Nacional em 2017.
Harpia – Que excelente oportunidade!
Francy Baniwa – Sim, uma oportunidade única, com diferentes professores. Quando fui para a FOIRN em 2014, tudo foi muito mais desafiador para viajar nas férias e participar das aulas. Mas me virei nos trinta e consegui concluir a graduação. E trabalhando na FOIRN eu conheci o Bruno Marques que estudava no Museu Nacional, mas por algum motivo eu achava que ele era pesquisador do Museu do Índio, achava que as duas instituições eram a mesma. Meus professores da UFAM me motivaram a fazer o mestrado e, quando eu ouvia, eu achava que seria impossível por ter dois filhos, ser separada, e ter pais agricultores, que dependem financeiramente de mim para comprar combustível, sabão… Quando concluí em maio de 2016, saiu o edital do Museu Nacional e fui avisada pelo Eduardo Barcellos do Museu do Índio, pessoa com qual trabalhava escrevendo pequenos editais para trabalhar com as mulheres do Rio Negro e eu ainda desconhecia o Museu Nacional, porque eu não tinha acesso a essa informação, nem à internet, sobre as universidades que estão de portas abertas para receber os indígenas e com cotas.
Harpia – Como foi participar desse processo seletivo?
Francy Baniwa – Eu recebi a informação sobre o edital aberto com uma semana para encerrar. Me senti acolhida ao ler o edital e senti que poderia ter a chance de passar no processo. Vi que tinha que ter uma carta do futuro orientador, e pedi ajuda ao meu parente André Baniwa, que é conhecido e poderia conhecer algum nome do Museu Nacional para me indicar. E entre as indicações estava o professor Viveiros de Castro, que me deu a carta de aceite e eu fiquei tão feliz. Isso me encorajou para continuar, e enviei junto com o memorial e tudo o que era solicitado no edital. Eu não conhecia ninguém, porque até o Bruno Marques estava nas comunidades sem comunicação. Lembro que foi muito boa a entrevista e que me perguntaram por que eu queria estudar antropologia, e respondi que era porque eu queria complementar aquilo que já tinha sido escrito sobre os Baniwa, porque eu sentia que poderia fazer diferença, e eu queria levar a voz feminina para essas narrativas. Conversando com os professores que estavam na banca de entrevista, não os conhecia, mas depois eu senti que estava no caminho certo, porque fui muito bem recebida em meio as suas palavras.
Harpia – Que maravilha que você teve essa percepção de levar esse ponto de vista das mulheres indígenas. Como foi a sua dissertação?
Francy Baniwa – Na dissertação de mestrado, abordei as narrativas dentro do entendimento dos acontecimentos, como danças e benzimentos para a gente se proteger e a sua importância, porque não é um mito: são narrativas, são momentos de grandes transformações e de grandes significados para nos curar, seja como mulher indígena, seja como homem indígena Baniwa, explicando a nossa essência. Busquei colocar esses significados e ir comparando os entendimentos do meu pai, das minhas tias, e as contradições também. Cheguei quebrando alguns tabus e tendo uma troca riquíssima com o meu pai, e ele confiou em mim, compartilhando a sabedoria dele. Tive o privilégio de levar isso na escrita, porque a área de antropologia me deu essa abertura para eu falar sobre a minha própria realidade, falar sobre meu povo, e viajar nas narrativas com meu olhar diferenciado e coloquei isso no papel na linguagem do mundo ocidental. O mais desafiador foi traduzir de língua nheengatu e Baniwa para o português, porque às vezes não sentia que era isso. As narrativas são mundos em transformação e a explicação sobre o mundo atual em que vivemos.
Harpia – Uma oportunidade muito especial de poder vivenciar isso com seu pai, escrevendo sobre seu povo. Durante essas entrevistas você falava com ele em Baniwa?
Francy Baniwa – Com a minha mãe e com as minhas tias, eu falo em nheengatu. Já o meu pai fala as duas línguas indígenas: nheengatu e baniwa, e eu usava as duas para esclarecer algumas dúvidas, como dizia minha finada avó Cecília “eu tento mastigar as duas línguas”. E depois eu transcrevi para o português e redigi a dissertação. Agora estou no segundo ano do doutorado, e sempre aprendendo a cada dia que passa, sempre tendo minha mãe, tias e avós como inspiração e referência, pois carrego nas veias o sangue de mulheres guerreiras de vários clãs do meu povo. Com elas e por elas estou gestando uma tese, falando sobre os saberes femininos.
Harpia – Como foram seus estudos logo após o mestrado?
Francy Baniwa – Quando eu terminei o mestrado, saiu um edital de consultoria na Unesco pelo Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Aí a professora Bruna Franchetto me incentivou e me disse que eu poderia tentar concorrer, então, escrevemos o projeto e ele foi aprovado. O tema foi “Vida e Arte das Mulheres Baniwa: um Olhar de Dentro para Fora”, usando recursos audiovisuais de vídeos e fotografias para acompanhar todas as rotinas das mulheres Baniwa com seus trabalhos com cestaria de tucum, cerâmica e roça. Então, em 2019, fui a primeira consultora indígena da minha região na Unesco, coordenando o projeto e trabalhando com meu povo. Posso te falar que eu já conquistei tantas coisas na vida que eu nunca imaginaria: uma menina que nunca tinha saído de uma comunidade indígena, vivendo na roça, remando horas e horas em uma canoa de sete metros. Nunca imaginei estar aqui. Fico muito orgulhosa dessas conquistas, por ser a primeira mulher Baniwa que é mestra. É uma conquista para os 23 povos do Rio Negro. Vou ser a primeira doutora do meu povo, então carrego uma responsabilidade, e agora estão vindo mais mulheres mestras da minha região, apesar de todas as dificuldades, somos que nem formiguinhas: vamos nos fortalecendo cada vez mais e mais. Mais do que escrever é entregar algo concreto com esse trabalho maravilhoso, mostrando os lugares sagrados de transformação das narrativas, tendo a companhia do meu pai como motorista, mestre e interlocutor durante a realização desse trabalho de campo. Foi muito incrível toda essa abertura proporcionada pelo Museu Nacional na minha vida, com ele me mostrando ali cada detalhe do que ele já tinha me contado anos atrás para a minha dissertação de mestrado. Hoje posso dizer que sou uma antropóloga e pesquisadora. Aproveitei esse trabalho de campo que fiz para a Unesco e trouxe para o meu doutorado no Museu Nacional.
Harpia – Como foi essa chegada em 2017 no Rio?
Francy Baniwa – Eu cheguei em 2017 no tempo do Carnaval e eu ainda desconhecia a existência do Carnaval. Caí de paraquedas e só olhava as pessoas pela janela, e comecei as aulas em março. Assim que cheguei, fui acolhida por uma mulher maravilhosa, a Nely Marubo (Varin), também aluna do PPGAS-MN, que o José Miguel me apresentou, e ela me acolheu com todo amor e carinho. E o dono da casa estava viajando, mas me aceitou até eu encontrar um cantinho para mim. Lembro que a primeira vez que eu entrei no metrô eu peguei uma agendinha e fui desenhando todos os pontos de referência para retornar depois da aula para casa. Fui descobrindo cada coisa aos poucos desse mundo muito diferente do meu, onde você vê muitas pessoas, mas não conhece ninguém, e muito menos ninguém te conhece.
Harpia – E como foram os primeiros dias no Museu Nacional/UFRJ?
Francy Baniwa – Eu fiquei encantada, porque era uma grande maloca, diferente, com seus adornos e enfeites, um lugar sagrado, ainda mais tendo todo aquele conteúdo do Museu Nacional, tendo uma presença indígena através dos objetos e isso significa muito pra gente pela representatividade indígena. Por mais que a gente tenha ainda uma invisibilidade, eu vi que o Museu Nacional tinha esse lugar especial, inclusive tinha vários objetos Baniwa. A professora Bruna foi uma mãezona, que me recebeu e recebe todos nós, de uma forma tão acolhedora. Todos os professores são muito incríveis, além da Bruna, tem o professor João Pacheco, Viveiros de Castro, Márcio Goldman, John Comerford, Carlos Fausto, Aparecida Vilaça, Edmundo Perreira, Luisa Elvira, María Elvira e outros professores que são para mim os pajés e xamãs do mundo ocidental, assim como o meu pai e muitos outros, com seus conhecimentos. E todos os meus colegas tão unidos para não sentirmos tanta falta de casa. Nunca tinha tido amigos não-indígenas e nem tinha convivido com brancos em sala de aula, então eu temia se haveria preconceito. Antes, também sentia medo de como seria a relação com os professores, se eu tivesse uma ideia diferente ou se eu não fosse bem compreendida pelo meu português. Mas todos me ajudaram com o acolhimento e sinto muitas saudades deles nas aulas presenciais no Museu. Esses dias eu participei de uma reunião virtual do colegiado, onde estavam presentes quase todos os professores do MN, depois de quase dois anos sem vê-los pessoalmente, bateu aquela saudade e fiquei lagrimando de felicidade em revê-los juntos. Sou muito grata por conviver com colegas tão alegres e acolhedores e por essa troca tão rica entre dois mundos tão diferentes assim, nessa construção e reconstrução de diferentes pontos de vista.
Harpia – E você recebia alguma ajuda de ONGs por exemplo para se manter no Rio, além da bolsa de mestrado?
Francy Baniwa – Eu até falo com os meus filhos porque eu fazia um milagre com a bolsa de mestrado de R$ 1500, para comprar minhas passagens tão caras, e também me manter no Rio, sempre economizando até na comida. Mas nem por isso eu desisti ou desanimei de estudar. Tudo é muito caro desde a saída da minha comunidade até o Rio de Janeiro, eu moro no início do Brasil, no noroeste Amazônico, e, para estudar no Sudeste, eu atravesso o país. Superei todos os limites e continuo uma sonhadora de dias melhores.
Harpia – O que você espera para o seu futuro?
Francy Baniwa – Eu espero um dia poder trabalhar na FOIRN ou para qualquer instituição indígena, fazendo parte e retribuindo com meus conhecimentos para os povos indígenas. Quero muito trabalhar como antropóloga. Espero poder trazer meu pai na reabertura do Museu Nacional, que infelizmente não pude mostrar para ele aquelas peças Baniwa, que ele nunca viu porque foram perdidas quando destruíram as malocas do meu povo décadas atrás. Tive a oportunidade de caminhar nesse lugar tão sagrado que é o Museu Nacional, e agora estamos “renascendo das cinzas”, como dizia o título de uma reportagem que eu vi sobre a reconstrução da nossa grande maloca, pois a Quinta da Boa Vista é um território sagrado. Estou aqui como indígena e acadêmica para ajudar no que for preciso nessa reconstrução do Museu Nacional.
Harpia – O que você espera encontrar na reabertura do Museu Nacional/UFRJ?
Francy Baniwa – Espero encontrar na reabertura um museu renovado, com um olhar diferenciado, já que temos antropólogos indígenas hoje, vindo de diferentes povos do Brasil, indo além de peças como arco e flecha e adornos, mas contando com recursos audiovisuais e produções acadêmicas sobre lutas dos povos indígenas e principalmente dando espaço sobre “as línguas indígenas” do Brasil. Tenho certeza que será lindo contar com diferentes mãos, pelos indígenas e suas diferentes línguas, porque também somos parte dessa grande maloca que é o Museu Nacional. Para quem não sabe, a maloca é um lugar sagrado com riquíssimos conhecimentos, onde temos nossos enfeites, instrumentos musicais, dançamos e convivemos, onde está nossa força e potência. Estamos todos juntos para apoiar essa reconstrução do Museu Nacional, para semear e florir.
Pesquisadores indígenas no PPGAS

O ingresso regular de estudantes indígenas no Museu Nacional/UFRJ é um processo recente, de aproximadamente 6 ou 7 anos, quando o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) implementou a Política de Ação Afirmativa, abrindo vagas na seleção anual para indígenas e para negros. Somos pioneiros nesse sentido. Antes disso, havia o ingresso pelo Programa de Bolsas Carlos Chagas, da Ford Foundation.
“Temos no PPGAS diferentes pesquisadores indígenas com percursos diferentes, vindo de regiões diferentes, de povos diferentes. Isso marca um enriquecimento indiscutível da própria estrutura do Programa, obrigando a nós professores que tenhamos novos olhares, abordagens, experiências e análises num movimento que é cada vez mais forte, onde os pesquisadores indígenas reivindicam a autoria de suas próprias palavras, o direito e a competência, sobretudo, de fala e de análise sobre seus próprios povos, incluindo suas línguas, culturas e histórias. Percebo o protagonismo importantíssimo das mulheres indígenas, que ouso dizer que estão revolucionando a chamada academia, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora também”, avalia a professora do PPGAS, Bruna Franchetto. Ela observa que isso não é fácil, porque a estrutura da academia é conservadora e bastante fechada, mas os estudantes indígenas são muito motivados, organizados, mobilizados e muito ativos e estão proporcionando um enriquecimento vindo de várias direções e planos, não deixando as coisas como sempre foram.
“Os estudantes indígenas egressos do Museu Nacional têm trajetórias diversificadas, mas o que a maioria tem em comum é o desempenho de seu papel no cenário político e cultural, seja local, nacional ou internacional”, ressalta Bruna. Entre os estudantes que passaram pelo PPGAS, ela cita diferentes indígenas, como o advogado e antropólogo Luiz Eloy Terena, da etnia Terena, defendendo os direitos indígenas, e também Sandra Benites, da etnia Guarani Nhandewa, que é a primeira curadora indígena de um museu no Brasil, o MASP em São Paulo.